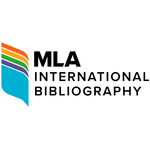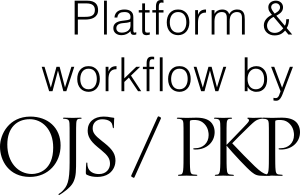A agentividade nas manchetes sobre violência de homens contra mulheres
DOI:
https://doi.org/10.14198/dissoc.14.4.4Palabras clave:
abordagem sociocognitiva do discurso, manchetes, violência contra a mulher, agentividadeResumen
Partindo do pressuposto de que as manchetes expressam as informações mais relevantes sobre os acontecimentos que envolvem mulheres em situação de violência e, por conseguinte, podem influenciar o processo de compreensão de seus leitores, objetivamos investigar quais papéis semânticos (agente ou paciente) os atores sociais (mulher e agressor) assumem nas manchetes e quais implicações as estruturas das manchetes têm para a problemática da violência de homens contra as mulheres. Tomamos o aporte teórico-metodológico da abordagem discursiva sociocognitiva, de van Dijk (1987, 1990, 1991, 2012, 2016, 2017), sobre o estudo das notícias na imprensa e dialogamos com pesquisadores que tratam da agentividade para a construção do quadro teórico. O corpus da análise é constituído de manchetes que reportam violência doméstica de homens contra mulheres publicadas em dois jornais do Espírito Santo. Os resultados demonstram que, ao estruturarem as manchetes, os jornais não se preocupam com a problemática que envolve o tema da violência como um problema social, além de apresentarem visões estereotipadas ao invés de construírem uma conscientização para o combate e a erradicação da violência contra mulheres.
Citas
Araújo, L; Sanematsu, M. (coord.) (2020). Imprensa e direitos das mulheres: papel social e desafios da cobertura sobre feminicídio e violência sexual. Instituto Patrícia Galvão.
Blasco, M. (1987). Description de l'utilisation du passif dans un corpus de langue parlé. Aix-en-Prevense: Université D' Aix-Merseille, Mémoire en Linguistique Française.
Brasil. (2006). Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 8 ago. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm Acesso em 20 de junho de 2019.
Brasil. (2015). Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 15 mar. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm Acesso em 19 março de 2019.
Bechara, E. (2009). Moderna Gramática portuguesa. 37a. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Camacho, R. G. (2000). Construções passiva e impessoal: distinções funcionais. In.: Alfa - Revista de Linguística, v.44, São Paulo: UNESP, p. 215-233.
Clark, K. (1992). The linguistics of blame: represenation of women in The Sun's reproting of crimes of sexual violence. In: TOOLAN, M. (ed.), Language, text and context: essas in Stylistics. London: Routledge, p. 208-224.
Castilho, A T. (2010). Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto. https://doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v13i1p7-16
Demoner, T.; Tomazi, M. (2017). A violência contra mulher no cenário jornalístico: análise discursiva de notícias. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero[recurso eletrônico] : 13th. Women?s Worlds Congress. Florianópolis: UFSC, v. 1. p. 1-12.
Dik, S. C. (1997). The theory of functional gramar. 2 ed. Revisada. Berlim: New York: Mouton de Gruyter.
Givón, T. (1990). Syntax: a functional-typological introduction. v. 2. Amsterdam/Philadelphin: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.50
Givón, T. (2012). A compreensão da gramática. Trad. Maria Angélica F. da Cunha, Mário E. Martelotta, Filipe Albani. São Paulo: Cortez; Natal, RN: EDUFRN.
Hall, S. et all. (2016). A produção social das notícias: o mugging nos media. In.: TRAQUINA, N. (Org.). Jornalismo: questões, teorias e estórias. Florianópolis: Insular, p. 309 - 344.
Hall, S. (1997). The spectacle of the 'other'. In: Hall, S. (Org.). Representation: cultural representations and signifying pratices. London: Sage.
Henley, N. M.; Miller, M.; Beazley, J. A. (1995). Syntax, semantics, and sexual violence: agency and the passive voice. Journal of Language and Social Psychology 14, p. 60-84. https://doi.org/10.1177/0261927X95141004
Ipea. (2019). Atlas da Violência 2019. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro: Ipea.
Nader, B. (2016). Gênero e mídia: perspectivas históricas, sociais e políticas. In.: Tomazi, M. M.; Rocha, L. H. P.; Pompeu, J. C. (Orgs.). Estudos discursivos em diferentes perspectivas: mídia, sociedade e direito. São Paulo: Terracota Editora, p. 97-101.
Natale, R. (2015). A representação social da violência de gênero contra a mulher no Espírito Santo. 175p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Espírito Santo.
Neves, M. H. de M. (2006). Texto e gramática. São Paulo: Contexto.
Mira Mateus et all. (2003). Gramática da Língua Portuguesa. Caminho: Lisboa.
Saffioti, H. (2015). Gênero, patriarcado, violência. 2.ed. São Paulo: Expressão Popular: Fundação Perseu Abramo.
Sanematsu, M. (2011). Análise da cobertura da imprensa sobre violência contra as mulheres. In.: Imprensa e agenda de direitos das mulheres: uma análise das tendências da cobertura jornalística. Brasília, ANDI
Instituto Patrícia Galvão, 2011, p. 55-103.
Tomazi, M. M.; Rocha, L. H. P.; Ortega, J. C. (2016). Violência machista em manchetes jornalísticas. In.: Tomazi, M. M.; Rocha, L. H. P.; Pompeu, J. C. (Orgs.). Estudos discursivos em diferentes perspectivas: mídia, sociedade e direito. São Paulo: Terracota Editora, p. 43-64.
Tomazi, M. M. (2019). Desconstrução de face da mulher nos títulos de notícias sobre feminicídio. Revista Interdisciplinar. São Cristovão, v. 31, p. 197-219.
Traquina, N. (2016). As notícias. In.: Traquina, N. (Org.). Jornalismo: questões, teorias e estórias. Florianópolis: Insular, p. 233-246.
Traugott, E; Trousdale, G. (2013). Constructionalization and constructional changes. Oxford: OUP. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.0001
Thompson, J. (2011). Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa. 9.ed. Petrópolis/RJ: Vozes.
Van Dijk, T. A. (1987). Communicating Racism: ethnic prejudice in thought and talk. California: Sage Publications.
Van Dijk T. A. (1990). La noticia como discurso. Comprensión, estrutura y producción de la información. Barcelona: Ediciones Paidós.
Van Dijk, T. A. (1991). Racism and the Press. London: Routledge.
Van Dijk, T. A. (2012). Discurso e contexto: uma abordagem sociocognitiva. São Paulo: Contexto.
Van Dijk, T. A. (2017). Discurso, notícia e ideologia: estudos na análise crítica do discurso. Portugal: Humus.
Waiselfisz, J. J. (2015). Mapa da violência 2015: homicídio de mulheres. Brasília, DF: Unesco. Disponível em www.mapadaviolencia.org.br Acesso em 23 de set. de 2019.
Waiselfisz, J. J. (2012). Mapa da violência 2012. Caderno complementar: homicídio de mulheres no Brasil. Brasília, DF. Disponível em https://mapadaviolencia.org.br/mapa2012.php#mulheres Acesso em 23 de set. de 2019.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 Micheline Mattedi Tomazi

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.